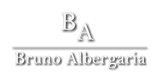Direito Ambiental / 4ª Aula Direito Ambiental como Direito Fundamental
Construção Teorética do Direito Ambiental como Direito Fundamental
Bruno Albergaria
Doutorando por Coimbra, Portugal. Professor universitário. Mestre em Direito. Autor dos livros Direito Ambiental e a Responsabilidade Civil das Empresas, editora Forum e Instituição de Direito, editora Atlas, alem de diversos artigos e pareceres. Advogado. bruno@albergaria.com.br; www.albergaria.com.br
Resumo: História da construção teorética dos Direitos Fundamentais. Grécia Clássica e sua filosofia. Idade Média e o mundo teocrático. Busca da Razão como resposta da ciência moderna. Direitos Fundamentais fruto da razão de Kant e do iluminismo. Novas percepções através da crise ambiental. Ecossuicídio. Necessidade do Estado Ambiental Democrático de Direito.
Sócrates, Platão e Aristóteles[1], contrários aos sofistas[2], buscavam a verdade como se fossem um princípio uno, universal, atemporal e acultural. Algo de que em tudo se originava. Dessa forma, se o homem desvendasse esse ser, descobriria a essência de todas as coisas. Assim, o mundo ocidental sedimentou nos ensinamentos dos gregos clássicos o início da filosofia questionativa[3]. Dever-se-ia buscar, sempre, a verdade absoluta e imutável. As ciências, seja qual for, alcançaram o status de reveladoras de todas as inquietações humanas. Pelo menos, foi assim na Grécia clássica[4].
Na Idade das Trevas[5] o ser único, verdadeiro e absoluto sedimentou-se na figura divina. Com efeito, um dos principais pensadores medievos, Santo Agostinho[6], o Estado não pode ser completamente justo, afinal é feito e governado pelos Homens, que são imperfeitos. Dessa forma, somente a Igreja, que é a representante na Terra de Deus, é que poderia ser justa em seus julgamentos.[7]
Ainda no mundo medieval, São Tomas de Aquino[8], com sua filosofia baseada em Aristóteles, notadamente na grandiosa obra Summa Theologiae, defendia a união da fé com a razão, unico meio de se chegar a verdade absoluta: Deus. Na análise da ética, chegou ao primeiro postulado da ordem moral universal no qual o homem deveria fazer o bem e evita o mal.
No crepúsculo da modernidade, René Descartes (1596 - 1650) começou a questionar o absolutismo da teocracia. Centraliza o pensamento (científico) na Autoridade da Razão, ao invés da Autoridade Eclesiástica. Assim, exortava as explicações das coisas pela razão, isto é, pela lógica e não porque a Igreja (ou Deus) afirmava. Com efeito, abriu as portas para a atual (sic) ciência, com o seu Discurso sobre o Metodo[9] ao criar o método científico, denominado de ceticismo racionalista, que, segundo suas próprias palavras seria “a idéia de um método universal para encontrar a verdade.”[10]
Em pouco tempo, em termos de história universal do homem ocidental, o método cartesiano invadiu a seara da física, com Isaac Newton e Albert Einstein; da psicologia com Freud a Lacan; da biologia, com Mendel e Darwin a James Watson; da economia, com Marx a Paul Krugman, e assim por diante. Os mil anos de estagnação tecnológica foram suplantados por uma década de desenvolvimento da hipermodernidade.
Com o direito também não foi diferente. A busca dessa verdade absoluta jurídica também é uma constante para os jus-filosóficos. Nessa busca, um dos pontos cardeais das ciências jurídicas é justamente saber qual a melhor regra a ser seguida[11]. Ou, em outras palavras, em que se deve reportar as ações humanas? Ao longo da existência da cultura ocidental, a question gira em dois pontos centrais: o direito é sedimentado nos princípios - metafísicos - ou no direito positivo, imposto por um órgão legítimo e legitimado pela democracia?
A resposta a esta indagação nem sempre foi a mesma no decurso da história. Como visto, Santo Agostinho e São Tomaz de Aquino, na Idade Média, transportaram as ideias dos gregos para construírem a base da teologia monoteísta da Igreja Católica. O Ser, uno e universal, matéria e essência de todas as coisas, era Deus. Assim, o Direito Natural deveria ser de origem divina. Deus, na sua perfeição, estipulava as normas de conduta com o seu direito natural; aos homens competiriam elaborar suas normas – direito positivo.
Por isso, indubitavelmente, entre colisão das normas humanas e as normas divinas não havia duvidas: Deus em primeiro lugar. Notadamente em São Tomas de Aquino, as leis seriam divididas em (i) Lei Eterna: a ordem existente em todo o Universo. Impossível de compreensão em sua totalidade pelo Homem; (ii) Lei Natural: Deus revela ao homem, através da concessão de sua inteligência, o que deve e o que não se deve fazer. Tem, como principal fonte as palavras (oficiais) de Deus: os Dez Mandamentos (antigo testamento); novo testamento; as interpretações da Bíblia (monopólio da Igreja) bem como as Leis oriundas da Igreja (Direito Canônico) e, finalmente, (iii) Lei Positiva, aquelas leis feitas pelos homens[12].
Afinal, as normas feitas pelos homens, como tudo que é humano, podem conter erros, o que é interpretado como injustiça; mas as normas divinas, como tudo que é feito por Deus, é perfeito[13]. Ou seja, entre uma e outra, dever-se-ia escolher as normas perfeitas. Porém, pelos resultados empíricos da Época das Trevas, com a prova dos erros da Igreja, com os excessos da Santa Inquisição, com o surgimento da Peste Negra e, finalmente, com a descoberta do heliocentrismo, foi-se posto em dúvida toda a supremacia da ordem divina. Tudo que era absolutamente divino foi novamente questionado pelos pensadores modernos[14].
Dessa forma, o Iluminismo veio; no seu ápice, foi dito que "Gott ist tot"; ou seja, “mataram Deus”, conforme dito nas palavras de Nietzsche (1844-1900)[15]. Contudo, não conseguiram matar Socrátes, Platão e Aristóteles: a busca do Ser (Sein) saiu da Grécia e de Roma e foi para a terra de Goeth, ou seja, para a Alemanha. Dessa forma, chega-se até os postulados de Kant, com uma perspectiva jusnaturalista dos (universais) imperativos categóricos[16], em vista objetivamente a uma sociedade cosmopolita, estruturada e desenvolvida para uma paz pérpetua[17], com uma tentativa de construção de um Direito-Racional Humano. A vida, a liberdade e a propriedade formam o centro gravitacional do direito natural racional, dito pelas revoluções iluministas.
Porém, a mesma Alemanha de Kant, foi a terra de Hitler. Com efeito, logo após os horrores do Holocausto, o UNO-Sein sedimentou-se novamente no universo teorético do Direito Natural Racional Universal e ganhou a alcunha de Direitos Humanos, Humanitários e Fundamentais... dentro das características fundantes e definidores de cada um[18].
Com a crise ambiental alberga-se a temática do "sustentável". Será que devemos seguir um principio ambiental mesmo que seja contra um direito positivo emanado do Estado de Direito Democrático? E se o fim do planeta estiver justamente nos meus atos "obedientes" mas apocalípticos? Pode-se afirmar que a racionalidade pos-moderna busca o Uno no equilíbrio da natureza; não mais em Deus e nem na razão-humana. O mundo hodierno passa por problemas graves no seu ecossistema. Jared Diamond[19] descreveu várias sociedades que cometeram o ecosuicidio, isto é, a degradação do habitat ao nível do insustentável, ou seja, até a completa exterminação da própria sociedade por inviabilidade ambiental. Assim foi na Ilha de Pascoa, bem como os Anasazi e os Cahokia, nas atuais fronteiras dos EUA, os Maias na América Central, o Grande Zimbabué na África, as cidades de Angkor Wat e do Vale Hindu Harappan na Ásia, dente outras sociedades.
Será que o mundo ocidental, com todas as características, e perigos, da globalização, também vai cometer o ecossuicídio? E la nave va... para o buraco da auto-destruição?
Hoje em dia, o Direito Natural está mais inclinado para o direito ambiental. Se Deus sempre perdoa, o Homem às vezes mas a natureza nunca. Se há realmente um preceito superior as normas positivas é justamente o instinto de sobrevivência. E só haverá o continuun das espécies, incluindo aí a humana, se as nossas atitudes forem ecológicas. Dessa forma, mister se fazer, para que não haja divergências entre o princípio da máxima proteção ambiental e as normas positivas, a construção de um Estado de Direito Democrático Ambiental[20]. O que, diga-se, já foi erigido quando da Constituição de 1988, com os paradigmas do artigo 225, de natureza ambiental.
Bibliografia:
ALBERGARIA, Bruno. Histórias do Direito. São Paulo: Atlas, 2011.
CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto., Os Direitos Humanos e Meio Ambiente. In SYMONIDES, Janusz (Org.)., Human Rigths: new dimensions and challenges, Paris: United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 1998. (Versão utilizada: Direitos Humanos, novas dimensões e desafios, Brasília: UNESCO no Brasil, 2003.
COLAÇO ANTUNES, Luís Filipe. Direito Público do Ambiente. Diagnose e prognose da tutela processual da paisagem. Coimbra: Almedina. 2008.
DESCARTES, Rene. Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la verité dans les sciences, publicado pela primeira vez na França em 1637.
DIAMOND,Jared. Colapso (versão utilizada: Colapso. Como as sociedades escolhem o fracasso ou sucesso. São Paulo: Record, 5ª edição, 2007) .
DUARTE, Marise Costa de Souza.A Proteção dos Direitos Fundamentais e o Meio Ambiente. Fórum de Direito Urbano e Ambiental - FDUA, Belo Horizonte, n. 8, mar./abr. 2003, pag. 757 a 763.
DURANT, William James. The Story of Philosophy: the Lives and Opinions of the Greater Philosopher. (1926) New York: Simon & Schuster, revised edition 1933.
FONTOURA DE MEDEIROS, Fernanda Luiza,. Meio Ambiente Direito e Dever Fundamental. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2004.
FRANCO JUNIOR, Hilário In Idade Média: nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2001.
Santo Agostinho. De Civitate Dei . A Cidade de Deus. (413/426).
GOMES CANOTILHO, J.J., Procedimento administrativo e defesa do ambiente, In RLJ, nº 3802, 1991.
GOMES CANOTILHO. J.J., Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. Org. J.J. GOMES CANOTILHO e MORATO LEITE, José Rubens. O Direito Constitucional Ambiental Português e da União Européia. São Paulo: Saraiva. 2007.
GOMES CANOTILHO, J.J. (Coordenador), Introdução ao Direito do Ambiente, Lisboa: Universidade Aberta, 1998.
KANT, Immanuel., Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785. (versão utilizada: A metafísica dos costumes, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2005)
KANT, Immanuel. Zum ewigen Frieden ein philosophischer Entwurf, 1795. (versão utilizada: A Paz Perpétua e outros Opúsculos. Lisboa: Edições 70, s/d. trad. De.
KAUFMANN, A. e HASSEMER, W., Introdução à Filosofia do Direito e à Teoria do Direito Contemporâneas. (2ª Edição). Lisboa: F. C. GULBENKIAN. 2009.
LE GOFF, Jacques. La Civilization de L´Occidente Medieval (versão utilizada: A civilização do Ocidente Medieval. Vol. I. Lisboa: Editoraial Estampa. 1999).
NIETZSCHE, Friedrich. Gaia Ciência (1882), parte 125.
PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho Y Constitucion. Madrid: Tecnos. 6º Edicion, 1999.
SÃO TOMAS DE AQUINO. Summa Theologiae. Versão utilizada: The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas. Second and Revised Edition, 1920. Literally translated by Fathers of the English Dominican Province.
[1] Como é cediço Socrátes não escreveu nada. Contudo, Platão, discípulo de Socrátes, teve uma vida literária intensa. Dentre suas principais obras combatentes às idéias sofistas, pode-se destacar Teeteto, Crátilo e Górgias, bem como o próprio diálogo Sofista. Já Aristóteles pode-se citar todo o Corpus aristotelicum.
[2] Por parte dos sofistas destacaram os filósofos Górgias (483 a.C.-376 a.C.), e Isócrates (436 a.C.-338 a.C.). Contudo, a maxima sofista resume-se na afirmativa de Protágoras(481 a.C.-420 a.C.), no qual afirmarva que "O homem é a medida de todas as coisas".
[3]DURANT, William James. The Story of Philosophy: the Lives and Opinions of the Greater Philosopher. (1926) New York: Simon & Schuster, revised edition 1933.
[4] ALBERGARIA, Bruno. Histórias do Direito. São Paulo: Atlas, 2011.
[5] O termo “Idade das Trevas” é contestado por muitos historiadores, tais como LE GOFF, Jacques. La Civilization de L´Occidente Medieval (versão utilizada: A civilização do Ocidente Medieval. Vol. I. Lisboa: Editoraial Estampa. 1999), bem como FRANCO JUNIOR, Hilário In Idade Média: nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2001, com pejorativo e não condizente com o período. Porém, mantém-se aqui a título de recordação das inúmeras mortes produzidas pelas Cruzadas e pela Santa Inquisição.
[6] Nasceu no norte da África, em 354 e morreu em 430.
[7] Santo Agostinho. De Civitate Dei . A Cidade de Deus. (413/426).
[8] Nasceu no castelo de Roccasecca, em 1225 e morreu no ano de 1274 em Fossanova.
[9] DESCARTES, Rene. Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la verité dans les sciences, publicado pela primeira vez na França em 1637.
[10] Ob. Cit.
[11]KAUFMANN, A. e HASSEMER, W., Introdução à Filosofia do Direito e à Teoria do Direito Contemporâneas. (2ª Edição). Lisboa: F. C. Gulbenkian. 2009.
[12] São Tomas de Aquino. "Summa Theologiae" e "Summa Contra Gentiles".
[13] Ver em São Tomaz de Aquino. Summa Theologiae. Versão utilizada: The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas. Second and Revised Edition, 1920. Literally translated by Fathers of the English Dominican Province.
[14] Cf. Apud. ALBERGARIA, Bruno. Histórias do Direito. São Paulo: Atlas, 2011.
[15] NIETZSCHE, Friedrich. Gaia Ciência (1882), parte 125.
[16] A ideia de lei universal pode ser encontrada no imperativo categórico kantiano segundo o qual deve-se “agir unicamente segundo a máxima, pelo qual tu possas querer, ou mesmo tempo, que ela se transforme em lei geral” KANT, Immanuel., Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785. (versão utilizada: A metafísica dos costumes, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2005)
[17] KANT, Immanuel. Zum ewigen Frieden ein philosophischer Entwurf , 1795. (versão utilizada: A Paz Perpétua e outros Opúsculos. Lisboa: Edições 70, s/d. trad. De.
[18] Para melhor análise do tema ver PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho Y Constitucion. Madrid: Tecnos. 6º Edicion, 1999.
[19] DIAMOND,Jared. Colapso (versão utilizada: Colapso. Como as sociedades escolhem o fracasso ou sucesso. São Paulo: Record, 5ª edição, 2007) .
[20] GOMES CANOTILHO, J.J., Procedimento administrativo e defesa do ambiente, In RLJ, nº 3802, 1991, passim. Ver, ainda, GOMES CANOTILHO. J.J., Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. Org. J.J. GOMES CANOTILHO e MORATO LEITE, José Rubens. O Direito Constitucional Ambiental Português e da União Européia. São Paulo: Saraiva. 2007. Pags. 1-11; FONTOURA DE MEDEIROS, Fernanda Luiza,. Meio Ambiente Direito e Dever Fundamental. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2004; COLAÇO ANTUNES, Luís Filipe. Direito Público do Ambiente. Diagnose e prognose da tutela processual da paisagem. Coimbra: Almedina. 2008, págs. 84 e segs.; GOMES CANOTILHO, J.J. (Coordenador), Introdução ao Direito do Ambiente, Lisboa: Universidade Aberta, 1998, pag. 26 e segs.; CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto., Os Direitos Humanos e Meio Ambiente. In SYMONIDES, Janusz (Org.)., Human Rigths: new dimensions and challenges, Paris: United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 1998. (Versão utilizada: Direitos Humanos, novas dimensões e desafios, Brasília: UNESCO no Brasil, 2003, pág. 161-203); DUARTE, Marise Costa de Souza.A Proteção dos Direitos Fundamentais e o Meio Ambiente. Fórum de Direito Urbano e Ambiental - FDUA, Belo Horizonte, n. 8, mar./abr. 2003, pag. 757 a 763.