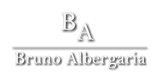Direito Ambiental / 8ª Aula: Responsabilidade Civil no Dano Ambiental
Responsabilidade civil ambiental
Bruno Albergaria
Doutor pela Faculdade de Direito da Coimbra, Portugal. Professor universitário. Mestre em Direito. Advogado. bruno@albergaria.com.br; www.albergaria.com.br
Livro: Direito Ambiental e a Responsabilidade Civil das Empresas, editora Forum Capitulo 6 do Livro
Sumário: 6.1 Responsabilidade civil ambiental - 6.2 Conceito de responsabilidade civil - 6.3 Responsabilidade civil e penal - 6.4 Responsabilidade civil contratual e extracontratual - 6.5 Responsabilidade civil subjetiva - 6.6 Responsabilidade objetiva - 6.7 Responsabilidade civil dos administradores de sociedade anônima - 6.8 Responsabilidade dos ruralistas - 6.9 Teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregrad doctrine)
6.1 Responsabilidade civil ambiental
É necessário fazer-se uma abordagem de toda a teoria da responsabilidade civil para poder proceder a uma análise mais acurada da responsabilidade em relação ao dano ambiental.
Os estudos sobre a responsabilização dos atos humanos objetivam-se na garantia de a vítima ter a reparação integral dos prejuízos causados por terceiros. É parte do direito obrigacional, porque consiste do direito da vítima que sofre um prejuízo ser ressarcida, impondo-se ao causador do dano a obrigação de repará-lo.
Os romanos não chegaram a construir uma teoria da responsabilidade civil. Ela foi elaborada a partir dos casos de espécie, decisão de juízes e de pretores, respostas de jurisconsultos, constituições imperiais que os romanistas de todas as épocas, remontando às fontes e pesquisando os fragmentos, tiveram o cuidado de utilizar, extraindo-lhes os princípios e, desta sorte, sistematizando os conceitos.[1]
Contudo, a contribuição da civilização romana foi importante para a construção teórica da responsabilidade civil. Mesmo as civilizações mais antigas, como se pode constatar pelo Código de Hamurabi, o Código de Manu ou o antigo direito Hebreu, já defendiam a idéia de punir aquele que causava prejuízo a outrem.
A Lex Aquilia, quando da República de Roma, no ano
Nos tempos contemporâneos, o Código Francês de Napoleão, de 1804, trouxe uma contribuição significativa para a teoria da responsabilidade civil. O art. 1.382 determina que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.[2]
A responsabilidade civil no dano ambiental foi brilhantemente abordada por Franco,[3] em 1977, que constata ser a degradação do meio ambiente um problema supranacional, que rompe fronteiras e aduz que o patrimônio ambiental não é res nullius como se pensava, mas sim res omnium, isto é, coisa de todos. E, portanto, a sua degradação deve induzir ao pagamento de indenização para toda a sociedade.
6.2 Conceito de responsabilidade civil
Segundo Savatier,[4] responsabilidade civil diz respeito à “obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependem”. É, portanto, o direito da vítima de se tornar credora perante a pessoa que produz um dano a qual será, conseqüentemente, responsável pela reparação daquele dano.
Pelos ensinamentos de Sampaio,[5] podem-se depreender três situações que estão ligadas ao comportamento humano, das quais podem surgir obrigações: os contratos, as declarações unilaterais de vontade e ato ilícito, podendo acontecer, excepcionalmente, a obrigação de indenizar, proveniente de um comportamento humano não classificado como ato ilícito, como é o caso da responsabilidade civil objetiva.
Para uma perfeita compreensão da abrangência da responsabilização civil, mister se faz, logicamente, a conceituação de ato ilícito que, segundo Rodrigues,
(...) são os atos humanos cujas conseqüências não são as almejadas pelos agentes, mas decorrentes da conduta contrária à lei. A conduta humana é praticada em desacordo com a ordem jurídica, violando direito subjetivo individual. E, diante do prejuízo provocado a terceiro, surge a obrigação imposta pela lei consistente na obrigação pelo dano causado. Reside, aqui, a fonte da obrigação de reparar o dano, objeto da responsabilidade civil.[6]
O Código Civil de 1916 versa, no art. 159, sobre a responsabilidade de reparar o dano causado. É a base da teoria da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, ao prescrever que a todo aquele que, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, violar direito ou causar prejuízo a outrem deverá reparar o dano decorrente de seu comportamento.
O mesmo diploma legal, no art. 160, ordena, também, as causas excludentes da obrigação de reparação do dano[7] em casos excepcionais, como a legítima defesa, o estado de necessidade e o estrito cumprimento do dever.
Tema de importância crucial é a definição do quantum a ser indenizado. Uma vez estipulada a obrigação de responsabilização do agente causador do dano, necessário se faz a quantificação, ou seja, quanto e de que forma deverá este mesmo agente suportar no seu patrimônio para minimizar os prejuízos ambientais.
O Código Civil de 1916, ao tratar, nos artigos 1056, 1518 “a”, 1532 e 1533 “a” 1553, da quantificação do dano, não menciona especificamente o dano ambiental.
No campo da responsabilidade civil ambiental, não há a devida previsão legal, no bojo do Código Civil de 1916, de como e quanto o autor do dano deverá ressarcir. Mesmo porque o dano ambiental tem características intrínsecas que o difere dos demais enumerados pelo Código Civil.
Pelo Código Civil de
Fica a cargo do aplicador do direito verificar, caso a caso, o dano causado e quanto seria necessário para a sua reparação, se possível.
Faz-se necessária a distinção entre responsabilidade civil e responsabilidade penal, bem como responsabilidade contratual e extracontratual, para, finalmente, distinguir a responsabilidade objetiva da subjetiva.
6.3 Responsabilidade civil e penal
Tudo que acontece no mundo são fatos: alguns têm relevância para o mundo jurídico, outros não. O cair de uma folha, a suave brisa do mar não têm nenhuma importância para o mundo jurídico, isto é, o homem, por hora, não precisa normatizá-los.
Outros fatos já têm relevância para o mundo do direito, como, por exemplo, um vaso que cai de uma janela e atinge uma pessoa ou, quando um galho de uma árvore cai em cima de um carro na rua, por isso são considerados fatos jurídicos. Dentre os fatos jurídicos, há aqueles diretamente relacionados com a interação do ser humano.
Os fatos jurídicos em que o ser humano atua diretamente, através da ação ou omissão, são considerados atos jurídicos. Erroneamente entende-se que fatos e atos jurídicos são absolutamente diferentes, contudo um é gênero e o outro é espécie. Aqueles fatos produzidos pelo ser humano são considerados atos.
Alguns atos são necessários à vida em comunidade e, por isso, são até mesmo fomentados como, em um sistema capitalista, a compra e venda; outros são repudiados pela sociedade, por exemplo, não cumprir alguma das cláusulas do contrato de compra e venda, ou até roubar ou matar.
Por isso, os atos jurídicos podem ser lícitos, que são aqueles permitidos pela lei, ou ilícitos, que são aqueles em que a lei prevê uma sanção, ou conseqüência diversa da pretendida pelo agente.
Os atos ilícitos, ações e/ou omissões praticadas pelo ser humano violadores de uma norma jurídica, podem ter características penais ou meramente civis. Os atos cuja prática atinge toda a sociedade, não pelo ato em si, mas pela unidade e coesão social, é repudiado por essa mesma sociedade e são classificados pelo direito como atos penais. São, portanto, aqueles atos violadores de uma norma de interesse público e que, necessariamente, devem estar tipificados em lei com a sua devida sanção, que geralmente é uma restrição de direito.
Outros atos, apesar de não serem aceitos pela sociedade, não têm a necessidade de imputação penal, impondo ao agente causador apenas o restabelecimento do estado anterior ao dano ou, na sua impossibilidade, fazer uma reparação equivalente.
Geralmente, nos atos ilícitos civis, há a reparação individual, isto é, somente aquele que sofreu o prejuízo é que será reparado ou indenizado. Contudo, no dano ambiental, há, conforme já visto, duas grandes classificações de bens ambientais, o macrobem e o microbem. Quando se fala em responsabilização ambiental, deve-se entender a responsabilização do microbem, de responsabilização individual, do bem determinado e quantificado, como por exemplo, uma árvore frutífera de propriedade particular que veio a morrer em virtude da poluição causada por uma indústria. Na responsabilização ambiental, no entanto, deve-se considerar também o macrobem, no sentido amplo do termo, abarcando o interesse meta-individual. Portanto, no campo da responsabilidade civil ambiental, tanto deverá haver a indenização individualizada como a responsabilização coletiva ou meta-individual, para toda a sociedade atingida.
Ressalta-se que a mesma conduta humana pode se configurar como ato ilícito civil e penal, imputando ao agente duas conseqüências jurídicas de um mesmo ato, uma na seara penal e outra na seara civil. Com a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605, de 1998), o Brasil adotou uma postura severa ao tipificar os atos contrários ao meio ambiente como atos ilícitos penais.
6.4 Responsabilidade civil contratual e extracontratual
Para alguns autores, como Planiol,[10] não se justifica a distinção entre a responsabilidade civil contratual da extracontratual. Segundo esses escritores, a responsabilidade resulta sempre de três elementos que determinam o dever de indenizar, quais sejam: o ato ilícito, que é o comportamento humano; o dano, que é o prejuízo suportado por alguém, ou até mesmo por uma coletividade; e o nexo causal, que é a relação entre o ato humano e o dano. Para melhorar técnica jurídica é importante fazer esta distinção,[11] principalmente quando se trato de direito ambiental.
Conforme o próprio nome esclarece, o dever de indenizar os prejuízos causados na responsabilidade contratual advém de um contrato, de uma estipulação não cumprida ou cumprida parcial, ou diferentemente da estipulada. É o que estabelece o art. 1.056, do Código Civil de 1916,[12] e pelo novo Codex de 2002 no art. 389.[13]
Quando um contrato bilateral se estabelece, há uma obrigação entre ambas as partes. Os dois lados se obrigam entre si e cada um pode exigir o cumprimento do outro, sob pena de revogação do contrato.
Ocorrendo a resolução contratual por descumprimento de obrigação por uma das partes, a outra pode exigir perdas e danos através da responsabilidade contratual civil. Na maioria dos contratos, hoje em dia, há, inclusive, as cláusulas penais já prevendo a possibilidade de inexecução contratual e suas conseqüências jurídicas.
Já na responsabilidade extracontratual não há nenhuma estipulação prévia entre o credor e o devedor da obrigação. O ato humano, ato jurídico que pode ser tanto ação como omissão, é ilícito e como tal deve ensejar uma reparação ao prejudicado. É a responsabilidade aquiliana prevista no art. 159 do Código Civil, de 1916, e art. 186 do NCC, de 2002.
A conduta humana, na responsabilidade aquiliana, é reprovável socialmente e deve ser reposto o status quo anterior ou, na sua impossibilidade, deve-se fazer uma reparação equivalente.
Tem-se, como exemplo de responsabilidade extracontratual, uma pessoa que acidentalmente atropela outra, e esta venha a sofrer lesões corporais ou um vazamento acidental de petróleo em uma refinaria.
Dentre as justificativas para a diferenciação das responsabilidades contratuais e extracontratuais, está o aspecto da prova e, também, a extensão dos efeitos de tais atos.
Conforme define Diniz,[14]
(...) em matéria de prova, tratando-se de responsabilidade contratual, incumbe ao credor (contratante prejudicado) apenas demonstrar o inadimplemento do devedor, ou seja, basta a prova do não-cumprimento da obrigação gerada pelo contrato. Por outro lado, resta ao devedor (contratante inadimplente) provar a presença de alguma excludente de responsabilidade a fim de justificar o não-cumprimento da obrigação por ele contraída: inexistência de culpa sua, caso fortuito ou de força maior.
Distinção importante, portanto, é a que se faz entre a responsabilidade aquiliana e a responsabilidade contratual: a primeira origina-se da lei[15] e a segunda origina-se de outra obrigação estipulada entre as partes, não cumprida na sua totalidade.
Fator preponderante entre a distinção da responsabilidade extracontratual e contratual é no que se refere à capacidade civil do causador do dano. Isso porque, segundo a responsabilidade aquiliana, o menor púbere[16] responde, como se capaz fosse, pelo ato ilícito praticado.[17] Já na responsabilidade contratual, responde o menor púbere por seu inadimplemento se, ausente a necessária assistência, mentiu sobre sua idade[18] quando da celebração do contrato.[19]
6.5 Responsabilidade civil subjetiva
Uma das distinções mais importantes na teoria da responsabilidade civil é, indubitavelmente, a classificação entre responsabilidade objetiva e subjetiva. Fruto da evolução dos anseios sociais nos quais sempre se baseia a segurança jurídica, aliada com a justiça, a teoria da responsabilidade, principalmente no direito público, transmudou-se da irresponsabilidade absoluta[20] para a responsabilidade objetiva.
O ordenamento jurídico pátrio do direito civil, alicerçado pelo Código Civil de 1916 e mantido pelo Código Civil de 2002, adota a responsabilidade civil subjetiva.
O pressuposto da responsabilidade subjetiva é a culpa, ou seja, o elemento essencial a gerar o dever de indenizar é o fator culpa entendido em sentido amplo (dolo ou culpa em sentido estrito). Na ausência de tal elemento, não há que se falar em responsabilidade civil.[21]
Não basta apenas haver dano, prejuízo, mas deve-se observar se o ato (ação ou omissão) tinha como objetivo causar o dano ou, pelo menos, se não havia sido praticado como a violação de um dever de cuidado.
Na teoria subjetiva, não é o dano o único elemento que vai gerar a responsabilidade civil de repará-lo. Há, ainda, de se comprovar se o ato humano que gerou o dano advinha de um comportamento qualificado mais o elemento subjetivo da intenção de causar o dano, ou se havia sido praticado sem o devido cuidado para se evitá-lo.
O legislador infraconstitucional de 1916 foi claro ao inserir no Código Civil o art. 159 estabelecendo que “aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência” causar algum dano deverá repará-lo. Faz-se, assim, necessária, no direito civil,[22] a ocorrência da culpa em sentido amplo[23] para haver a responsabilidade de reparar o dano. O legislador de 2002 manteve a regra ao inserir o art. 186 no novo Código Civil.
6.6 Responsabilidade objetiva
De origem romana,[24] apesar de pouco empregada naqueles tempos, a responsabilidade objetiva ganhou corpo através da escola francesa, principalmente a partir do século XIX.
A teoria da responsabilidade subjetiva não é suficiente para responsabilizar certas situações em que há a necessidade de reparação, mesmo não havendo a culpa em sentido lato.
Nos casos específicos em que a sociedade exige uma reparação dos prejuízos, mesmo não havendo culpa, aplica-se a responsabilidade objetiva, isto é, a obrigação de reparar o dano não está vinculada a um comportamento culposo do agente.
Para justificar a responsabilização sem culpa, adota-se a teoria do risco. Pela própria atividade exercida, admite-se que pode acontecer um dano a outrem e, por isso, ocorrendo o prejuízo, mesmo sem a culpa em sentido lato, deverá ser reparado. Mas para a aplicação da teoria do risco objetivo é imprescindível que haja previsão legal, por ser exceção. Não havendo a previsão legal aplica-se a teoria do risco subjetivo.
Contudo, autores, como Lima,[25] criticam a teoria subjetiva, ao observarem a dificuldade de verificar o elemento culpa, tendo em vista que este é um fator intrínseco ao homem, da psique humana, que foge ao alcance do direito e entra na seara da psicologia.
Quem pode, com certeza absoluta, dizer o que se passa na mente ao praticar um ato? Às vezes, ou quase sempre, nem o próprio ser humano que praticou o ato sabe...
Lima textualmente afirma que
(...) as reflexões e as pesquisas sobre o conceito jurídico de culpa conduzem a um terreno de areias movediças, como reconhecem os próprios mestres que tratam do assunto. Page considera a culpa um critério técnico insuficiente. Josserrand a denomina um conceito caduco, noção elementar e fugaz.[26]
Gaston Morin refere-se a ela como mentira jurídica destinada a camuflar a realidade. Orozimbo Nonato reconhece que o problema da responsabilidade civil não pode encontrar uma base sólida na teoria da culpa.
Deixar ao arbítrio do juiz essa função quase vidente é temerário e acarreta uma insegurança social, o que gera, inclusive, as famosas críticas em forma de anedotas populares.[27] Contudo, a principal aplicação da teoria objetiva ainda se encontra no direito público.
A Revolução Francesa, em 1789, equiparou o Estado ao homem comum, estendendo ao Poder Público a idéia de que também poderia ser responsabilizado pelos seus atos, mas a responsabilização Estatal restringia-se à teoria subjetiva.
Percebendo que o Estado age com poderes superiores[28] aos dos cidadãos comuns, a obrigação daquele também passou a ter uma abrangência maior. Afinal, quanto maior for o direito maior será a obrigação.
Para tanto, foi ampliada a responsabilidade do Poder Público em relação à teoria objetiva. É o que ensina Meirelles
Realmente, não se pode equiparar o Estado, com seu poder e seus privilégios administrativos, ao particular, despido de autoridade e de prerrogativas públicas. Tornaram-se, por isso, inaplicáveis em sua pureza os princípios subjetivos da culpa civil para a responsabilização da Administração pelos danos causados aos administradores. Princípios de Direito Público é que devem nortear a fixação dessa responsabilidade.[29]
Na seara civil, o art. 927 do Código Civil, de 2002, estabelece que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Mas só haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa (responsabilidade objetiva), nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
Portanto, teve vigência, pelo Código Civil de 1916, e ainda continua vigendo, pelo Código Civil de
Outras searas do direito também são contempladas pela teoria do risco ou responsabilidade objetiva, como a responsabilidade civil decorrente do acidente de trabalho, estabelecendo o direito de indenização ao trabalhador acidentado, independentemente da culpa do empregador (Lei nº 8.213/91); a responsabilidade civil no transporte de pessoas (Decreto legislativo nº 2.681, de 1912); a responsabilidade civil no transporte aéreo (Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei nº 7.565/86); a responsabilidade civil do fornecedor pelos produtos e serviços prestados ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8078/90); dentre outras.
O direito ambiental, como não poderia deixar de ser, também incorporou por completo a teoria do risco sem culpa. Apenas havendo dano ao meio ambiente, independentemente da culpa, o agente causador do prejuízo ambiental deverá repará-lo.
Torna-se inerente a qualquer atividade que possa causar dano ao meio ambiente assumir o risco de uma eventual indenização, mesmo que não haja a culpa, no caso do dano ambiental. É o que prescreve a Lei nº 6.939, no seu art. 14, inc. II, verbis:
Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
§1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil ambiental são a ação ou omissão, a relação de causalidade (nexo causal) e o dano ao meio ambiente, compreendendo o meio ambiente no sentido amplo da concepção.
Não há que se falar em culpa ou não do agente causador do dano ambiental para impor o dever de indenizar o prejuízo,[30] por se tratar de responsabilidade objetiva.
Rodrigues[31] explica que, como requisito essencial da responsabilidade civil, o legislador estabeleceu que o prejuízo causado deve advir de uma conduta humana (comissiva ou omissiva) violadora de um dever contratual, legal ou social.
Toda atividade lesiva ao meio ambiente, como poluir um rio ou desmatar uma floresta, é de fácil percepção. Contudo, a omissão causa maior dificuldade em visualizá-la.
Como exemplo da omissão, pode-se citar a obrigação imposta por lei ao Poder Público de planejar e viabilizar um plano de emergência nas localidades próximas das usinas nucleares. Só por não haver um plano de evacuação da população vizinha já se enseja a responsabilidade, podendo o responsável ser acionado judicialmente.
6.7 Responsabilidade civil dos administradores de sociedade anônima
Uma das questões relativas à responsabilidade civil das empresas está ligada, também, à responsabilidade dos seus administradores. Uma vez apurado o dano ambiental e estipulada a forma de reparação, poderá a empresa propor ação regressiva contra os administradores para que estes arquem com os prejuízos? Até que ponto poderá a responsabilidade ser extensiva aos seus donos e/ou administradores?
Em excelente obra, Lima[32] aborda o tema e conclui que, na história do nosso direito, o princípio da liberdade de iniciativa e o estímulo à iniciativa privada são uma constante, e o mercado de capitais é um sistema apto a fortalecer e democratizar a empresa privada nacional, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico.
Mas o Estado deve fiscalizar as empresas de forma discreta, porém firme, para dar credibilidade e fazer justiça aos atos dos administradores que devem agir com alto padrão ético ambiental. Porém o legislador pátrio, com acentuada preocupação no tema, recorreu a modelos diferentes, exabundando normas exemplificativas e repetitivas, mas em discordância com o modelo formal processual em vigor, o que ocasiona uma desproporção entre a divulgação de condenações judiciais e os escândalos financeiros tão alardeados pela imprensa.
Ainda segundo Lima, a solução para os problemas da responsabilidade civil dos administradores é a educação. E o direito ambiental também não se furtou desse princípio, tanto é que ele se encontra, inclusive, inserido no texto constitucional de 1988.
6.8 Responsabilidade dos ruralistas
Provavelmente a primeira forma de controle do ser humano em relação à natureza sejam as atividades da agricultura e da pecuária, porém, atualmente, a agropecuária utiliza-se da mais avançada tecnologia e da ciência biológica com o objetivo primordial do aumento da produção. Entretanto, em busca de produtividade crescente, sérios danos ecológicos podem acontecer. A utilização excessiva de agrotóxicos, pesticidas e a introdução de novas espécies, sem uma pesquisa séria em relação às conseqüências que essas inovações podem causar, provocam consideráveis e nocivas interferências no meio ambiente.
Em virtude não só dos resíduos orgânicos e químicos produzidos,[33] a agropecuária se insere como ramo de atividade potencialmente impactante, disciplinada pela Resolução nº 001/86 do Conama.[34]
As conseqüências a que certas práticas podem levar ainda são desconhecidas. Por isso, o direito ambiental regula-se pelo princípio da precaução e prevenção. No entanto, diversos danos já são percebidos no meio ambiente, como a erosão,[35] a desertificação,[36] a degradação do solo,[37] a contaminação das águas, o empobrecimento da fauna e da flora que pode ser originado pelo uso de agrotóxicos,[38] fertilizantes[39] e, até mesmo, por medicação veterinária e a utilização de detergentes e óleos.
Pelo Estatuto da Terra, Lei nº 4.504, de 30 de novembro de
(...) empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condições de rendimento econômico da região em que se situe e que explore área mínima agricultável do imóvel segundo padrões fixados, pública e previamente, pelo Poder Executivo. Para esse fim, equiparam-se às áreas cultivadas, as pastagens, as matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias.
As críticas à definição legal são muitas.[40] Mas não nos compete, aqui, discorrer sobre o tema. O que é importante é frisar que a mais moderna teoria do direito equipara o agricultor ao comerciante, entendendo que a visão de comerciante estendeu-se para a do empresário.
São dizeres do jurista Costa:
(...) não há razão lógica, precisa, científica, para a exclusão da atividade agropecuária daquelas consideradas mercantis. Os argumentos utilizados pelos que adotam posição contrária não resistem à menor crítica, porquanto buscam sustentação em elementos ultrapassados e até inexistentes, desconhecendo a realidade dos dias atuais.[41]
Portanto, o agricultor, entendido como empresário, foi abarcado pelas normas a que todo comerciante se sujeita, passível de concordata preventiva, falência e responsabilidades empresariais, mas é lógico que aquele proprietário de uma pequena gleba de terra que tem uma produção caseira, sem o fito econômico, quase que exclusivamente para o lazer, como atividade secundária, não pode ser considerado comerciante e não pode ser atingido pelas normas comerciais. Porém, para o direito ambiental, ele poderá ser responsabilizado civil e penalmente caso provoque algum dano ao meio ambiente.
6.9 Teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregrad doctrine)
Um dos principais objetivos do direito é a pacificação social. A sociedade escolhe os rumos e diretrizes que entende serem os mais elevados e procura sistematizar esses princípios em normas para que a própria sociedade, através do Poder Estatal, possa exigir de cada indivíduo, seja ele pessoa jurídica, natural e até mesmo das desprovidos de personalidade jurídica, a melhor conduta.
Porém, às vezes, no mundo real, o direito é utilizado de modo contrário à sua função e aos princípios éticos que ensejaram a sua existência. A utilização de uma faculdade jurídica, como a criação de um ente com personalidade jurídica simplesmente com o intuito de burlar o senso comum de justiça, mesmo estando dentro das normas jurídicas positivas, constitui um verdadeiro abuso do direito.
Essa realidade impôs aos estudiosos do direito a elaboração da teoria da desconsideração da personalidade das pessoas jurídicas, ou disregrad doctrine, que se verificou ser um meio bastante eficiente no combate ao divórcio entre o direito e a realidade.
Desde os remotos tempos da criação das pessoas jurídicas, com personalidade distinta dos seus membros, criou-se um verdadeiro tabu para romper com essa proteção jurídica, porém a realidade forçou o direito: inúmeros foram os casos em que se utiliza a empresa para atingir fins não éticos. Para evitar essa proteção, primeiro a doutrina e, posteriormente, o legislador adotaram a disregrad doctrine que consiste no desconhecimento dos efeitos naturais da pessoa jurídica, em casos concretos, penetrando em sua estrutura formal para verificar-lhe o substrato, a fim de que não seja utilizada para simulações e fraudes.[42]
Portanto, o indivíduo que se utiliza de uma pessoa jurídica, ao degradar o meio ambiente, poderá, sob a ótica da desconsideração da personalidade jurídica, responder diretamente pelos danos causados.