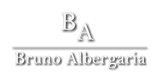Direito Ambiental / 10ª Aula Direito Internacional Ambiental
Direito internacional ambiental
Doutor pela Faculdade de Direito da Coimbra, Portugal. Professor universitário. Mestre em Direito. Advogado. bruno@albergaria.com.br; www.albergaria.com.br
Sumário: 9.1 Direito internacional ambiental - 9.2 Histórico do direito internacional do meio ambiente - 9.3 As fontes do direito ambiental internacional - 9.4 Questões so
9.1 Direito internacional ambiental
Primeiramente, cumpre destacar que o direito internacional não é ramo do direito comparado. À primeira vista, pode-se fazer uma confusão entre os dois campos do direito por tratarem de matéria que envolve mais de um país, lidando com o estrangeiro. Contudo, o direito internacional é matéria autônoma e distinta daquela.
O direito internacional visa a regulamentação entre os atores internacionais.[1] Logo, o direito internacional ambiental objetiva a regulamentação, principalmente entre os países, que são os sujeitos originários internacionais, no campo de atuação para a proteção e recuperação ambiental.
Diferentemente o direito comparado é, conforme o próprio nome sugere, o estudo comparativo dos vários sistemas jurídicos existentes no mundo.
Enquanto o direito comparado estuda o direito interno de um país comparativamente a outros países, o direito internacional regula, ou tenta regular, as relações entre os países, ou sujeitos internacionais.
Feitas essas considerações preliminares, passa-se ao estudo do direito internacional ambiental propriamente dito, enfocando, logicamente, a responsabilidade civil do dano ambiental.
9.2 Histórico do direito internacional do meio ambiente
O primeiro grande trabalho abordando o tema foi de autoria do professor da Universidade de Estrasburgo, Alexandre Kiss,[2] que influenciou, de forma decisiva inclusive, as o
Conforme já mencionado, os primeiros tratados e convenções internacionais so
A Convenção de Londres, de 8 de novem
No inicio da década de quarenta, mais precisamente em 1941, houve, por sentença arbitral,[4] a primeira intervenção de decisão da jurisdição internacional relativamente ao meio ambiente, cuja parte principal determinava que “nenhum Estado tem o direito de usar ou de permitir o uso de seu território de tal modo que cause dano em razão do lançamento de emanações no ou até o território de outro”.[5]
Já nos anos 50, verificam-se as primeiras ações para impedir a poluição marítima, vide exemplo da Convenção de Londres de 12 de maio de 1954, que tratou da prevenção da poluição do mar pelos hidrocarbonetos.
Importante ressaltar que, após a Segunda Guerra Mundial, com a exploração da energia nuclear para fins militares e pacíficos, a sociedade internacional viu-se praticamente o
Com a assustadora degradação do meio ambiente e com a real possibilidade do meio ambiente não mais se recompor, tendo em vista a ação poluidora do ser humano, começa-se a visualizar a proeminente necessidade de proteção ao meio ambiente, no final da década de sessenta, não só regionalmente, mas também de uma forma globalizada.
Os primeiros alardes dos cientistas so
O Conselho da Europa, continente seriamente atingido por essa nova problemática, em 1968, adota duas declarações, uma so
A necessidade de uma maior discussão so
Em junho de 1972 foi, então, realizada, em Estocolmo, pela ONU, a Conferência das Nações so
Essa declaração afirma ser direito fundamental do ser humano: a liberdade, a igualdade, e a condição de vida satisfatória num ambiente cuja qualidade lhe permita viver com dignidade e bem-estar, proclamando, ainda, que os recursos naturais devem ser preservados no interesse das gerações presentes e futuras.[7]
A conferência aprovou também o plano de ação, conjunto de metas e estipulações internacionais, que ocasionou a conferência do Rio de Janeiro, em junho de 1992, vinte anos após a conferência de Estocolmo.
A exploração do meio ambiente de forma desordenada está exaurindo o ambiente, transformando até mesmo os recursos renováveis em recursos extintos.
Uma das grandes questões do direito internacional é o limite entre a soberania nacional e as ingerências externas que, às vezes, são até mesmo de cunho militar com o respaldo da Sociedade Internacional.
O controle ambiental internacional também foi alvo dessa dualidade, conforme se pode observar no princípio 21 da declaração, verbis:
Em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios do direito internacional, os Estados têm o direito soberano de explorar os seus próprios recursos de acordo com a sua política ambiental, e têm o dever de fazer que as atividades exercidas nos limites da sua jurisdição ou sob o seu controle não causem danos ao ambiente
Já nas reuniões preparatórias da convenção de Estocolmo, surgiram conflitos ideológicos entre os países desenvolvidos e o bloco dos países em desenvolvimento, dentre os quais figuravam o Brasil e os países africanos.
Os países ricos defendiam um combate à poluição do solo, da água e da atmosfera através do controle da industrialização. O bloco dos países em desenvolvimento temia que políticas intervencionistas pudessem arrefecer e prejudicar o processo de industrialização de cada país.
Ao final dos trabalhos em Estocolmo, foi elaborada a Declaração so
Após a conferência de Estocolmo de 1972, os problemas ambientais emergiram e fortaleceram-se em toda a sociedade internacional, fazendo surgir uma nova ordem ambiental internacional.
Visando uma ação mais global e a
Na conferência do Rio de Janeiro, foram produzidos três grandes programas: a Declaração so
A convenção do Rio de Janeiro não tenta substituir nem estipular regras contrárias à convenção de Estocolmo, mas, sim, aperfeiçoá-la, aumentá-la, melhorá-la.
Alguns princípios básicos do direito internacional ambiental foram estipulados como norte para os direitos internos. A aplicação do princípio do poluidor-pagador; a transparência, ou seja, a divulgação da atividade passível de poluição, para toda a população diretamente atingida por atividade poluidora; o estudo prévio de impacto ambiental; a notificação e assistência imediata em caso de urgência; e, principalmente, a necessidade de elaboração de regras internacionais e nacionais so
9.3 As fontes do direito ambiental internacional
Quando se discutem as fontes do direito ambiental internacional, nada mais se faz do que uma releitura das fontes do direito internacional.
O Estatuto da Corte Internacional de Justiça (CIJ) é o mesmo texto do Estatuto do Tribunal Internacional, que funcionou entre os anos de 1919 e 1945, no qual se enunciou, em seu art. 38, que:
1 - A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará:
a) as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes;
b) o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito;
c) os princípios gerais do direito, reconhecidos pelas nações civilizadas;
d) sob reserva da disposição do art. 59,[10] as decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações, como meio auxiliar para a determinação das regras de direito.
2 - A presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte de decidir uma questão ex aequo et bono, se as partes com isso concordarem.
Segundo o art. 38 da CIJ, os tratados internacionais são as fontes principais do direito internacional. O Ministério do Meio Ambiente disponibiliza, no seu site <http://www.mma.gov.br/port/GAB/asin/acorda.html>, os principais tratados e convenções de que o Brasil faz parte.[11]
Mas não estão apenas nos tratados e convenções internacionais as fontes do direito internacional ambiental. O art. 38 é contundente ao determinar que a jurisprudência e a doutrina também são fontes do direito internacional, bem como os costumes. No caso da jurisprudência e da doutrina, o que a lei pátria não albergou, o direito internacional acolheu como fonte.
Porém, podem-se considerar os atos unilaterais como também sendo fonte do direito internacional. Recentemente a Austrália propôs processo perante a CIJ contra a França, devido à realização de testes nucleares no Atol de Mururoa, baseando-se em declarações do presidente francês, em 1973, de que não realizaria mais testes nucleares no Pacífico Sul.
9.4 Questões so
Mesmo com uma crescente regulamentação, através de tratados e convenções, ainda havia uma grande falha em relação ao combate à degradação e poluição tanto mundial quanto regionalmente. O meio ambiente era divido em setores, tais como o ar, os mares, os rios, as lagoas, a fauna, a flora. Combater a poluição e a degradação com análises visando somente um desses setores não estava resolvendo o problema.
De quase nada adianta existir uma forte legislação de proteção à fauna se a flora e os rios estão poluídos. É a visão transversal do meio ambiente que tenta resolver o problema de forma globalizada e caracteriza a evolução do direito internacional do meio ambiente.[12]
Conforme visto no Capítulo
Ademais, o problema da poluição ambiental não se restringe a uma localidade específica. A camada de ozônio está sendo destruída, e todo o planeta é atingido. Mesmo os países que têm o controle ambiental rígido são atingidos, de igual forma, com o constante dessa camada de proteção. O mundo é um só, e assim deverá ser tratado o meio ambiente.
9.5 Responsabilidade internacional do dano ambiental
Se o tema já é difícil e complexo no âmbito interno de um país, nas relações internacionais, que envolvem necessariamente a discussão so
Além disso, como já foi dito anteriormente, o meio ambiente é composto de vários setores, e a sua degradação pode ocorrer por um ou mais agentes poluentes, o que, aliás, é o que acontece mais comumente.
Tentando transpor essas dificuldades, a Declaração do Rio, no seu princípio 13, determina que:
(...) os Estados devem desenvolver legislação nacional relativa a responsabilidade e indenização das vítimas de poluição e outros danos ambientais. Os Estados devem ainda cooperar de forma expedita e determinada para o desenvolvimento de normas de direito internacional ambiental relativas a responsabilidade e indenização por efeitos adversos de danos ambientais causados, em áreas fora de sua jurisdição, por atividade dentro de sua jurisdição ou sob seu controle.
A Convenção de Lugano, de 21 de junho de 1993, elaborada após o acidente na fá
9.6 Corte internacional do meio ambiente
A necessidade de especialização em todos os ramos da ciência também se faz presente no mundo jurídico. Nos dizeres da ilustre jurista mineira Rocha,[14] “a complexidade e a diversificação das matérias tornadas objeto de tratamento pelo direito deixa claro que não há mais como operar nesse ramo do conhecimento sem que haja uma preparação específica para cada tema”.
Com o direito ambiental não é diferente. A sociedade internacional tem-se debatido com o tema. Em 1988, na cidade de Roma, Itália, foi ventilada a idéia de uma corte internacional ambiental foi ventilada.
Em 1992, o comitê originário dessa corte, realizado em Roma, transformou-se na International Court of the Environment Foundation (Icef), Organização Não-Governamental (ONG) sem fins lucrativos, com o objetivo inicial de impor sanções morais aos degradadores ambientais.
É do conhecimento de todos que somente penalizações de efeito moral não dão o resultado pretendido, dessa forma torna-se imprescindível que haja um Tribunal com força jurídica internacional para poder aplicar sanções aos Estados e aos poluidores, porém a implementação de uma corte ambiental internacional encontra resistência dos países ricos e industrializados que temem ser penalizados por infringirem normas ambientais.
Enquanto não é implementado um tribunal internacional para questões ambientais, há, atualmente, um consenso internacional que trata de ações que promovem danos ambientais, podendo fazer propostas de indenizações no tribunal do local do dano, no tribunal em que se exerceu a atividade perigosa ou no domicílio do réu.[15]
[10] Este artigo determina que “a decisão da Corte só será o
[11] Em anexo.